 Em 1972, trabalhando na Light, ainda pertencente ao grupo canadense Brascan, eu me sentia frustrado por não trabalhar como engenheiro, pois a engenharia da companhia era muito desorganizada e incipiente. Estava, havia três anos, lotado na Divisão de Distribuição Estadual, que abrangia a Baixada Fluminense e os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Três Rios, Paraíba do sul e outros. Não fazia nada de engenharia. Então, surgiu um concurso para a Petrobrás. Sem ser informado da data do concurso, me esqueci dele. Um dia, num sábado, estando na praia com a família, vi a convocação da prova do concurso. Vesti a roupa e fui. Passei em primeiro lugar. Isto me levou a ser escolhido pelo Departamento de Produção (DEPRO), onde trabalhei até me aposentar. Não consegui sair desse Departamento. Gostava dele.
Em 1972, trabalhando na Light, ainda pertencente ao grupo canadense Brascan, eu me sentia frustrado por não trabalhar como engenheiro, pois a engenharia da companhia era muito desorganizada e incipiente. Estava, havia três anos, lotado na Divisão de Distribuição Estadual, que abrangia a Baixada Fluminense e os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Três Rios, Paraíba do sul e outros. Não fazia nada de engenharia. Então, surgiu um concurso para a Petrobrás. Sem ser informado da data do concurso, me esqueci dele. Um dia, num sábado, estando na praia com a família, vi a convocação da prova do concurso. Vesti a roupa e fui. Passei em primeiro lugar. Isto me levou a ser escolhido pelo Departamento de Produção (DEPRO), onde trabalhei até me aposentar. Não consegui sair desse Departamento. Gostava dele.
A mudança para a Petrobrás, mesmo ganhando menos, foi uma bênção. Mandaram-me logo para Aracaju – 3.000 empregados, nenhum engenheiro eletricista. Eu não conhecia nada de petróleo, até chamava tubo de “cano”. O “petrolês” era a tônica das reuniões e eu voava alto. Foi duro no começo, mas os desafios eram grandes e motivadores. Assim, em pouco tempo eu estava dominando o “idioma”: bomba Reda (bomba de fundo de poço), relés em geral, estação coletora, cavalo-de-pau (unidade de bombeio em terra), recuperação secundária, bombeio hidráulico, disjuntores a vácuo, Centro de Controle de Motores, sistemas de partida e proteção dos motores, áreas classificadas, recuperação secundária e outros. Dominado o “idioma”, a vida ficou mais fácil. Em um mês fiz mais engenharia do que em três anos trabalhando na Light. Estava empolgado. Era tudo o que eu queria.
Nessa ida a Aracaju, visitei as três plataformas marítimas do campo de Guaricema que tinham sido instaladas para serem apenas satélites de produção, mas mudou-se o conceito e resolveu-se que elas seriam de processamento, tornando-se necessário instalar uma planta de processo em cada uma: era uma nova e desafiadora engenharia. Daí pra frente, muitas novidades.
Uma curiosidade logo me surgiu: olhando a estação coletora de Atalaia, eu questionava por que os tanques de petróleo tinham o teto cônico. Curioso, perguntei a várias pessoas, pois precisava saber. Várias respostas dadas não me convenciam. Fui investigar mais a fundo e descobri: o projeto da estação coletora era importado, e, nos EUA, os tanques tinham teto cônico para evitar o acúmulo de neve. Ou seja, era preciso elaborar os projetos aqui e voltados para as nossas condições e necessidades. Era também muito necessário “tropicalizar” a tecnologia importada. Trabalhamos muito nesse sentido.
Assim, os projetos das plantas de processo das plataformas já foram feitos por empresas nacionais, sob a fiscalização de engenheiros com experiência de produção em terra. Deu certo e, a partir daí, com novas descobertas nos campos de Camorim, Caioba (SE) e Ubarana (RN), resolvemos projetar e fabricar as plataformas no Brasil. As duas primeiras tiveram os projetos copiados das americanas. A partir destas, começamos a fazer os projetos aqui.
Como fiscal da construção da primeira plataforma, enfrentei grandes problemas com o fornecimento de materiais e com o estaleiro construtor. Este estava acostumado a fazer obras sem muito rigor nos quesitos de qualidade e segurança. Quando começaram as nossas exigências – eu contava com a assessoria de uma sociedade classificadora internacional, a Lloyds Register, e procurava seguir as normas internacionais de fabricação, montagem, segurança, soldagem e pintura – houve reação.
Com muito bom senso, mas com rigor na fiscalização, deixamos o estaleiro em polvorosa. Como os oito dirigentes do estaleiro eram comandantes reformados da Marinha, eles tentaram me enquadrar como antimilitarista. Eu só procurava alertá-los todo o tempo de que era deles toda a responsabilidade pelos eventuais problemas futuros da plataforma, mas eles eram imediatistas. Queriam construir para faturar. Com o rigor das nossas exigências, e das normas internacionais, despreparado, o estaleiro – Inconav era o seu nome – acabou indo à falência.
Instaladas as plataformas e prontos os projetos de plantas de processo, começamos as instalações. Era gratificante constatar a competência, a dedicação e a motivação das nossas jovens equipes. Muita criatividade, sempre com respeito às normas técnicas.
No início da década de 80, eu estava um pouco preocupado com a falta de integração da engenharia do DEPRO – Departamento de Produção, onde eu trabalhava – com os demais órgãos de engenharia da Petrobrás. De repente, me veio às mãos um boletim da AEPET, onde havia uma matéria sobre a constituição de um grupo de trabalho da entidade que se propunha a estudar a Função Engenharia da Companhia. Procurei a entidade e ofereci a minha colaboração como representante do DEPRO. O grupo era formado por engenheiros de vários órgãos, a saber: Diomedes Cesário (CENPES) – coordenador – Guaraci Correia Porto (SEGEN), Oscar Filizola de Souza (DEPIN), Ângelo Francisco dos Santos (CENPES) e eu, pelo DEPRO.
Durante dois anos esse grupo entrevistou vários gerentes de órgãos ligados à engenharia da Petrobrás e, ao final, elaborou um documento com propostas de melhoria e integração da engenharia. O coordenador Diomedes apresentou este documento, uma proposta de reestruturação de toda a engenharia da Petrobrás. O trabalho foi muito bem aceito e várias de suas sugestões foram implementadas.
Assim eu fiquei conhecendo a AEPET e me inteirei de suas propostas de atuação. Era uma entidade nacionalista que tinha como objetivos: 1) defender o Monopólio Estatal do Petróleo; 2) defender a Petrobrás e 3) defender o corpo técnico da Petrobrás. E também, claro, a Soberania Nacional. Era a sintonia com o que eu pensava. Estava na época de eleições para a nova diretoria da entidade e eu fui convidado a integrar a chapa que acabou sendo eleita.
Minha primeira tarefa foi investigar as ações do diretor de Produção da Petrobrás, engenheiro Joel Rennó, cujo mandato estava se encerrando. A AEPET não estava satisfeita com o desempenho daquele diretor. Apresentei as informações que, juntadas a outras, formou um dossiê que subsidiou um pedido ao Ministro das Minas e Energia, doutor Aureliano Chaves, para não reconduzir Rennó. O pedido logrou êxito, Rennó não foi reconduzido. Infelizmente, alguns anos depois, já no governo Itamar Franco, Aureliano recomendou Rennó e ele foi indicado para presidir a Companhia. Teve um desempenho razoável na gestão Itamar, mas veio o governo Fernando Henrique e Rennó que havia ajudado, por ordem de Itamar, a defender o monopólio, passou a defender a sua quebra, dando uma oportunista guinada de 180 graus.
Estudei com afinco a história da AEPET e fiquei sabendo da corajosa atuação de vários de seus presidentes. Tanto na época da sua fundação quanto durante a ditadura militar, a entidade sempre se posicionou com coragem e desprendimento no cumprimento dos seus objetivos. Na gestão do Sr. Shigeaki Ueki à frente da Petrobrás, os dirigentes da AEPET com cargo de chefia na Companhia foram destituídos de seus cargos e ameaçados de demissão. No governo Collor também. Mas a entidade jamais deixou de se manifestar e de se posicionar com coragem e discernimento.
PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO
Uma das minhas atuações muito gratificantes na Petrobrás foi a de ter participado na nacionalização de equipamentos e serviços para o setor petróleo. Nas décadas de 70 e 80, o governo autorizou a compra de equipamentos no mercado nacional até pelo dobro do preço. Assim, iniciamos uma grande campanha para nacionalizar equipamentos e serviços. Esta iniciativa fez com que os empresários nacionais investissem em novas tecnologias. Durante mais de dez anos visitamos fábricas e viabilizamos a adaptação de vocações identificadas nos pequenos industriais às nossas necessidades.
Além da vantagem da reserva de mercado, nós, da operação, da engenharia básica, do CENPES (que depois absorveu a engenharia básica), repassávamos tecnologia e conhecimento para esses fabricantes que iam adaptando e ampliando suas fábricas às nossas necessidades. Com isto, eles cresciam em tecnologia e capacitação. Tal estratégia chegou a consolidar um grande parque fabril de cinco mil fornecedores de equipamentos de petróleo. Eles chegaram a competir com empresas internacionais, ao nível do Estado da Arte. Além deles, alcançamos cerca de três mil fornecedores de serviço.
Veio então o governo Collor, que baixou as alíquotas de importação em 30%, em média. Isto diminuiu em muito a competitividade dos empresários nacionais. Depois, veio o governo FHC, que jogou a pá de cal: criou o Repetro, através do decreto 3161/98, que passou a isentar as empresas multinacionais do Imposto de Importação, sem que os Estados da Federação isentassem as empresas nacionais do ICMS correspondente. Resultado: Cinco mil empresas nacionais dizimadas. Um crime de “lesa-Pátria”.
NA AEPET
No governo Sarney, durante a vigência dos contratos de risco instituídos no governo Geisel, surgiram na imprensa reportagens de várias páginas dizendo que a empresa Texaco havia descoberto reservas gigantes na ilha de Marajó. As matérias diziam que era um novo Mar do Norte e que a Texaco estava disposta a vender as reservas para a Petrobrás por US$ 400 milhões. Os geólogos associados à AEPET nos deram informações de que aquela descoberta não era comercial e que a Petrobrás iria comprar campos sem petróleo. A AEPET levou essas informações para o ministro Aureliano Chaves. Ele, então, mandou suspender a compra e investigar melhor as informações dos geólogos, concluindo pela não aquisição das reservas; elas eram, simplesmente, irreais.
Ainda durante o governo de José Sarney, o então Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, sob o pretexto de combater a inflação, iniciou um processo de achatamento das tarifas das empresas estatais, quebrando a sua capacidade de investir. Isto estava previsto nas diretrizes do Consenso de Washington para fazer a campanha do “Estado Falido” e “Estado Mínimo” (ver artigo de Paulo Nogueira Batista: “O Consenso de Washington”, no livro “Em defesa do Interesse Nacional” – pg. 99). Essa campanha do “Estado Mínimo” foi um dos alicerces do processo de privatização e, principalmente, desnacionalização. Tal ação levou as estatais a uma situação de inviabilidade. Assim, suas tarifas de comunicação, energia e siderurgia subsidiavam as empresas estrangeiras no País. A Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, vendia chapas para a indústria automobilística, estrangeira, a um preço menor do que o custo de sua fabricação. Uma indústria que, mesmo assim, “jamais deu lucro”, sonegando impostos.
CONTRATOS DE RISCO
No governo Geisel, os investimentos na área de exploração e produção de petróleo caíram muito e, em consequência, a produção também caiu drasticamente. Assim, quando veio a crise de 1973, com a elevação dos preços do petróleo — de US$ 2 por barril para cerca de US$ 12 —, a Petrobrás e o país foram pegos de surpresa. O país já estava mergulhado numa grave crise financeira, pois no governo Médici o Ministro da Fazenda, Delfim Neto, de forma irresponsável, tomou empréstimos externos a juros flutuantes e quando os EUA, a pretexto de combater a inflação, elevaram os juros ao patamar de 23% ao ano, o Brasil e os demais países da América Latina sofreram graves perdas, passando a exportar capital e muita matéria-prima para o exterior. Essa estratégia americana, de endividar para controlar os países fornecedores de matéria-prima para os EUA é bem descrita no livro: “Confissões de um assassino econômico”. O objetivo é mantê-los sob controle econômico.
Portanto, dentro da estratégia americana, em 9 de outubro de 1975 o presidente Geisel, cedendo às pressões internacionais, foi à televisão e propôs a instauração dos contratos de serviço com cláusulas de risco, ato que contrariava a Soberania Nacional e os termos da Lei 2004/53, que não permitia esse tipo de contrato. Esta Lei foi fruto do maior movimento cívico do País: “O petróleo é nosso”. O presidente disse – visivelmente constrangido – em pronunciamento de 43 minutos na televisão: “Para um país da dimensão do Brasil e que precisa não perder tempo, antes apressar-se no setor petróleo, não seria justificável deixar de proporcionar à Petrobrás e à Nação os contratos de serviços com cláusulas de risco”. Era o mais forte golpe contra o Monopólio Estatal do Petróleo.
Em seguida, o ex-ministro das Minas e Energia, então presidente da Petrobrás, Shigeaki Ueki, nomeado por Geisel, usou massivamente os meios de comunicação tentando justificar a atitude do chefe, que infringia os preceitos da Lei 2004/53, usando varias falácias, entre elas as seguintes “justificativas”: “Tais contratos se revestem de todas as garantias para a Petrobrás e o Brasil”. Mas os contratos, que inicialmente eram apenas para exploração, de repente se transformavam e revelavam toda a intenção entreguista, na palavra do presidente da Petrobrás: “Após o desenvolvimento dos campos porventura descobertos, a empresa contratante poderá participar das operações de produção dos mesmos sob adequada fiscalização e controle da Petrobrás”. Continua Ueki: “A indústria e a mão-de-obra nacionais estão garantidas no contrato e são, de fato, estimuladas ao fornecimento de materiais e prestação de serviços”. O que o senhor Ueki não fez, mas deveria tê-lo feito, teria sido explicitar, entre outros, os seguintes fatos divulgados pela AEPET:
– além da Petrobrás, só empresas multinacionais tinham condições de assinar esses contratos;
– essas empresas, no caso de haver descobertas, receberiam um percentual médio de 35% do petróleo produzido (no contrato da Marathon Oil, por exemplo, o percentual era de 40%);
– a Petrobrás era realmente quem comprava no país (chegou a comprar 95% de bens e serviços). As multinacionais trazem materiais, equipamentos e mão-de-obra do exterior.
Durante a vigência dos contratos de risco, 243 contratos foram assinados com 35 das maiores e mais experientes empresas internacionais. Estas dispuseram, por força de diretriz superior, de 85% do total das áreas com rochas sedimentares passíveis de conter petróleo. Tais áreas, postas em licitação, foram divididas e subdivididas em áreas ou blocos, oferecidos com todas as informações geológicas e geofísicas até então coletadas pela Petrobrás.
Na ocasião, o Brasil produzia cerca de 170.000 barris por dia e era importador de mais de 1 milhão de barris por dia. Nesse ritmo, o País via suas preciosas divisas serem corroídas rapidamente. O Brasil, mergulhado numa longa crise financeira, teve ainda mais agravada tal situação. Nesse sentido, se aproveitaram o governo e o Ministro das Minas e Energia, César Cals, via telegrama, para explicitar a intenção real, dizendo que as empresas estrangeiras investindo grandes somas na exploração, aumentariam rapidamente a produção.
Disse o jornalista Ricardo Bueno, em seu livro “A Farsa do Petróleo”, no qual baseamos os textos acima sobre os contratos de risco: “No dia 29 de dezembro de 1979, o ministro César Cals encaminhou ao presidente da Petrobrás telegrama sugerindo ‘adaptações’ nos contratos de risco para beneficiar as multinacionais. Estas poderiam receber em óleo quando descobrissem um poço produtor e, além da exploração, teriam agora o direito à fase de produção (…) e recomendava à Petrobrás que fosse mais generosa…”.
Eis o telegrama:
“Conforme nossos entendimentos telefônicos retransmito teor meu despacho ontem com exmo. Senhor presidente República a respeito adaptações devem ser feitas nos modelos contrato risco estão sendo celebrados pela Petrobrás. Informo-lhe que senhor presidente aprovou referidas modificações. Para alcançar maior cooperação da iniciativa privada na prospecção de petróleo, propomos as seguintes modificações:
1 – Delimitar a área atual de prospecção que a Petrobrás está realizando com recursos próprios e abrir demais áreas para a iniciativa privada.(…)
2 – Oferecer às empresas privadas a possibilidade de ter acesso a bacias inteiras, inclusive proporcionando-lhes toda a informação geológica necessária sobre a área total das bacias, para que possam ser escolhidos os blocos que interessam a cada empresa.
3 – A participação da empresa contratante na fase de produção, como é de praxe internacional. Naturalmente, a Petrobrás exercerá a adequada fiscalização.
4 – Decisão conjunta sobre o nível comercial da reserva descoberta pela pesquisa objeto do contrato de risco.
5 – Garantia de reembolso e/ou remuneração em moeda estrangeira, com registro do contrato no Banco Central do Brasil.
6 – Admitir que parte da remuneração seja feita em petróleo, ressalvando os interesses nacionais em caso de crise.
7 – Estimular a participação de pequena e média empresa nacional, que poderiam, sob a forma de consórcio, ser contratadas, até mesmo, com assistência técnica da Petrobrás.
César Cals – ministro das Minas e Energia.
Esse telegrama é a “bíblia” para a atual atuação da ANP. Com todas essas benesses, depois de treze anos de vigência, o resultado desses contratos – em que cerca de 85% das áreas com potencial de ocorrência de petróleo foram entregues para a exploração a empresas estrangeiras – foi pífio. Durante esses treze anos, elas mantiveram tais áreas sob seu total controle. Mas, enquanto no mesmo período, a Petrobrás — que ficou com apenas 15% das áreas potenciais — investiu cerca de US$ 26 bilhões, aquelas empresas investiram cerca de US$ 1,6 bilhão apenas. Destes, US$ 900 milhões foram gastos pela aventura do governador de São Paulo, Paulo Maluf, através da empresa criada para o mesmo fim, a Paulipetro. Protagonizaram um rotundo fracasso.
Nada descobriram de petróleo, exceto um pequeno campo de gás, o campo de Merluza, na bacia de Santos. Queriam, todavia, detectar e mapear as reservas brasileiras. Ressalte-se que a área onde foi recém-descoberto o pré-sal esteve sob controle dessas empresas nesses treze anos. Isto atesta que, se não fosse a atuação da Petrobrás, o pré-sal jamais teria sido descoberto.
Todo o estardalhaço da grande mídia em favor dos contratos de risco, com promessas de um grande êxito das empresas estrangeiras, terminou num total silêncio diante do rotundo fracasso desses contratos. O silêncio foi ainda mais “ensurdecedor” quando, anos depois, a Petrobrás achou óleo e gás nos campos de Tubarão, Estrela do Mar e Caravelas na Bacia de Santos, áreas que haviam sido devolvidas pelas multinacionais detentoras dos tais contratos de risco.
A AEPET combateu tenazmente esses contratos utilizando toda a sua energia. Mesmo em pleno regime militar, opressor e punitivo.
CONSTITUIÇÃO DE 1988
Em 1987/88 houve o processo de elaboração de uma nova Constituição Federal do País, que acabou sendo o mais democrático e participativo da história do Brasil. A AEPET teve a ideia de elevar o capítulo da Lei 2004/53 que estabelecia o monopólio do petróleo para o nível da Constituição Federal. Esperávamos que uma vez aprovado, o monopólio jamais seria quebrado. Assim, a entidade promoveu vários eventos com a participação de líderes políticos e de várias entidades dos movimentos sociais. Com esta iniciativa – e sob o comando do insigne brasileiro, Barbosa Lima Sobrinho – o Congresso Nacional consagrou o monopólio no artigo 177 da Constituição de 88. Foi marcante o episódio do doutor Barbosa Lima: Ulisses Guimarães presidia a sessão conjunta do Congresso quando foi surpreendido com o plenário, de pé, aplaudindo freneticamente. Era o doutor Barbosa adentrando o recinto. Ulisses conduziu-o para a mesa diretora dos trabalhos e Barbosa desfraldou as bandeiras do Brasil e da Petrobrás para delírio dos parlamentares: resultado da votação: 441 votos a favor, 6 contra e 7 abstenções. A ideia, reafirmo, partiu da AEPET.
COLLOR
Ao assumir o governo, em 1990, o presidente Fernando Collor – eleito pela direita brasileira e apoiado pela mídia comprometida com o capital estrangeiro – recebeu do banco Credit Suisse First Boston um plano para privatizar a Petrobrás. Esse banco fora um dos coordenadores do processo de desnacionalização da Yacimientos Petrolíferos Fiscales da Argentina. Partindo do princípio de que a Petrobrás era uma empresa emblemática, o plano consistia em privatizar as subsidiárias da empresa e depois dividir a “holding” em novas subsidiárias, para privatizá-las. Collor iniciou o processo, privatizando a subsidiária de fertilizantes, a de mineração e chegando à petroquímica. A AEPET entrou com várias ações na Justiça para impedir as privatizações e fez um bom combate às unidades de negócio, que naquela época não foram implantadas.
No governo do presidente Itamar Franco o processo foi interrompido, tendo Itamar, inclusive, ordenado à direção da Petrobrás e a outras estatais que enviassem técnicos ao Congresso Nacional levando dados gerados pelos órgãos dessas empresas para subsidiar os parlamentares por ocasião da revisão constitucional, em 1993 e 1994. Esse trabalho, também feito por técnicos das outras estatais, impediu a quebra dos monopólios de petróleo, de comunicações, da navegação de cabotagem e do gás canalizado, impedindo que aquela revisão – entreguista – fosse exitosa.
Itamar era um nacionalista e se opunha tenazmente às privatizações. Mas o “lobby” joga pesado. Assim, Itamar enfrentou diversas iniciativas contra si. Uma delas foi colocarem uma moça sem calcinha no camarote do presidente, no sambódromo do Rio de Janeiro, fotografada por um fotógrafo de “O Globo” num ângulo que somente ele captou a genitália despida. Depois Itamar falou com ela por um telefone do Hotel Gloria, tendo uma repórter de “O Globo” na extensão. Posteriormente, numa viagem à Colômbia, um sobrinho e assessor de Itamar apareceu morto de overdose. Diante de tais pressões, o presidente acabou aceitando privatizar a Companhia Siderúrgica Nacional.
Depois do governo FHC, tentando se candidatar a presidente, Itamar foi atraído pelo PMDB, já tendo sido atraído pelo PSB. Prevendo um melhor apoio do PMDB, fez sua escolha por ele. Resultado: foi traído de forma humilhante e não pôde se candidatar. FHC conseguiu a reeleição com compra de votos, emendas liberadas para quem o apoiasse. Mas Itamar se elegeu governador de Minas Gerais e impediu, dentre outras, a privatização de Furnas.
Em 1992/3, FHC, como Ministro da Fazenda, ordenou que o Diretor do Departamento Nacional dos Combustíveis, Paulo Motoki, manipulasse a estrutura de preços dos derivados do petróleo. Nos seis meses que antecederam à URV, ele deu aumentos para as distribuidoras acima da inflação (32%) e, para a Petrobrás, abaixo da inflação (10%), o que fez com que a Companhia transferisse, anualmente, cerca de US$ 3 bilhões do seu faturamento para o cartel das distribuidoras. Com a implantação da URV e depois o plano Real, essa transferência ficou eternizada. O nosso diretor da AEPET, José Conrado, elaborou uma carta para o presidente Itamar, mostrando o absurdo. Comparando, inclusive, com a estrutura de preços americana, onde o refinador ficava com 65% do litro de gasolina vendido nos postos, enquanto que a Petrobrás, por aqui, ficava com apenas 14%. A desculpa do cartel era que eles tinham perdido o “floating”.
Mas o que vinha a ser esse “floating”? Outro absurdo: a Petrobrás comprava petróleo em dólar e vendia os derivados para as distribuidoras em reais. Elas tinham 30/40 dias para pagar à Petrobrás e aplicavam o dinheiro no mercado. Com a inflação galopante, ganhavam uma fortuna às custas da Petrobrás. E perpetuaram esse ganho com a manobra de FHC e o plano Real. De tanto a AEPET gritar, esse absurdo acabou sendo corrigido. Elas, sem fazer nada, ganhavam mais do que a Petrobrás, que: explorava, produzia, transportava e refinava o petróleo.
GASODUTO
Ainda no governo Itamar Franco, a empresa americana Enron junto com a British Gás, a Repsol e a Shell fizeram um forte lobby, através de FHC, para que a Petrobrás construísse o gasoduto Bolívia-Brasil com os seus recursos, financiando-o para elas.
Ocorre que essas empresas tinham reservas na Bolívia e o único mercado possível era o Brasil. Mas o gasoduto era inviável economicamente, pois tinha uma taxa de retorno de 10% ao ano e custos financeiros de 12% ao ano.
Assim, foi a Petrobrás forçada a retirar recursos da Bacia de Campos, onde a taxa de retorno era de 80% ao ano, em média, e aplicar nesse projeto, o que, na época, classificamos como o pior projeto da história da Petrobrás. A AEPET fez uma campanha muito forte, tendo editado um livreto explicativo sobre o tema.
Da forma como foi implantado, o projeto era ruim para a Bolívia, pois ela só recebia 18% pelo gás produzido; era ruim para o Brasil, que passou a usar um insumo energético poluente em detrimento de usinas hidrelétricas, pago em moeda forte e controlado por multinacionais.
Para a Petrobrás foi péssimo. Além de antieconômico, o contrato obrigava a empresa a assinar uma cláusula de “Take or Pay”, ou seja, mesmo não havendo para quem vender, ela era obrigada a comprar a quantidade contratada. Assim, durante 10 anos, ela importou cerca de 15 milhões de m3 por dia e era obrigada a pagar 25 milhões.
Depois de todo esse prejuízo, a ANP, dirigida por David Zilberstajn, obrigou a Petrobrás a ceder parte do gasoduto para a Enron e para a British Gas, com o consórcio das duas pagando valores bem menores que os pagos pela Petrobrás.
A Comgás, maior distribuidora de gás do País, foi leiloada pelo então secretário Zilbertajn e foi adquirida pela Shell e pela British, sendo que a Petrobrás Distribuidora foi impedida de entrar no leilão.
REVISÃO CONSTITUCIONAL
Seu relator foi o deputado Nelson Jobim. Ele se reunia todos os dias com o grupo de lobistas que defendiam os interesses estrangeiros, comandados por Jorge Gerdau, Afif Domingos e dirigentes da FIESP.
Jobim chegou a propor o fim do mar territorial de 200 milhas. O senador Antonio Mariz, da Paraíba, a pedido da AEPET, fez uma denúncia indignada no plenário do Senado e Jobim, então, retirou a proposta.
A Petrobrás, sob orientação do presidente Itamar Franco, criou um Grupo de Trabalho de empregados voluntários para que fossem ao Congresso Nacional levando muitas informações geradas pelos órgãos da Companhia, sob o comando do SERPLAN – Serviço de Planejamento -, visando a subsidiar os parlamentares. A AEPET participou desse grupo com três diretores, em média, indo a Brasília semanalmente, durante todo o período da revisão, nos anos 93 e 94, e ajudando com a sua experiência na abordagem aos parlamentares. Nesses contatos, os congressistas pediam que elaborássemos discursos sob o tema. Os companheiros nos traziam os pedidos e elaborávamos. Só eu cheguei a redigir cinquenta deles. Foram objetos de vários pronunciamentos nos plenários da Câmara e do Senado. Esse trabalho do GT teve um êxito extraordinário e junto com os trabalhadores da Telebrás e demais estatais envolvidas, conseguimos que a revisão não se concretizasse.
Nesse trabalho contávamos com um grande apoio do deputado Haroldo Lima, na época um nacionalista. No final do processo, já com nossa vitória garantida, surgiu um esforço do Centrão para uma negociação, tentando recuperar alguma coisa. Um dos líderes, nosso aliado, líder do PDT, nos informou que os lobistas estavam oferecendo R$ 10 milhões para os deputados da oposição que defendessem esse acordo. Coincidentemente, no ano seguinte, o deputado Haroldo Lima mudou totalmente de postura, quando FHC acionou o rolo compressor. Haroldo não mais nos ajudou: não sabia mais de nada e chegou a desativar a nossa base de apoio, a Frente Parlamentar Nacionalista, levando tudo para o seu gabinete, inclusive a secretária. Por grande coincidência, o líder do PT ganhou um grande prêmio na loteria e abandonou a política.
No ano seguinte, 1995, FHC fez um decreto e proibiu a ida de empregados de estatais ao Congresso. O decreto 1403, de 17/2/1995, instituiu serviço de inteligência/espionagem, que visava a informar a ida de algum empregado de estatal ao Congresso. Seria demitido. Assim, FHC passou o trator pelas reformas da Ordem Econômica (quebra dos monopólios, privatizações) que causaram um desastre ao País. Esse processo incluiu a indução dos petroleiros à greve, para massacrar os sindicatos em geral e desmontar uma grande resistência às suas reformas neoliberais e entreguistas. Calou os sindicatos e nadou de braçada nos seus objetivos de entregar o País.
Desde o início, o governo FHC deixou clara a sua posição e a forma arbitrária e autoritária como agiria. Em fevereiro de 1995, quando as emendas sobre a Reforma Constitucional começaram a tramitar no Congresso, o governo proibiu as estatais de fazer qualquer trabalho junto aos parlamentares.
Em discurso considerado o mais duro desde sua posse, Fernando Henrique preveniu: “Eu faço questão de advertir que não tolerarei que as empresas governamentais trabalhem contra o governo. Não tolerarei. Tenho certeza que posso contar com os presidentes e diretores destas empresas. Caso contrário, não estarão participando do governo e as consequências serão imediatas.” Ou seja, “quem não aderir, tá fora”.
O autoritarismo do presidente refletia sua insegurança. Isto porque, durante a Revisão Constitucional no governo Itamar Franco, o trabalho de esclarecimento feito pelos empregados da PETROBRÁS junto aos congressistas foi muito bem sucedido, tendo, inclusive, contado com o apoio do então presidente da empresa, Joel Mendes Rennó que, à época, mostrava-se contrário à flexibilização do monopólio estatal do petróleo. Veio FHC e ele deu uma guinada de 180 graus.
Ao mesmo tempo, FHC defendia a realização de uma ampla campanha, com o aparato de marketing eleitoral para pressionar o Congresso. Não chegou a tanto porque encontrou uma fórmula mais eficiente para fazer pressão: de um lado, ameaçava os aliados que não estavam apoiando o governo como ele queria (uma das formas utilizadas para pressionar aqueles parlamentares foi realizar devassa em suas empresas, colocando a estrutura da Receita Federal a serviço do lobbypresidencial/internacional); por outro lado, FHC empregava, com toda força, a política do “é dando que se recebe”. Assim, guardou todos os cargos dos segundo e terceiro escalões, prometendo distribuí-los apenas aos aliados fiéis. Era a volta, a pleno vapor, do fisiologismo político. Nas votações das reformas, era de impressionar a fidelidade das bancadas do PFL: maior que a do próprio partido do presidente, o PSDB. O início da distribuição de cargos no segundo e terceiro escalões se deu no mesmo período da votação da emenda que derrubou o monopólio estatal do petróleo.
BOB FIELDS
Em 1995, durante uma audiência pública para discutir a proposta do governo que iria mexer na Constituição, estivemos eu e um representante da FUP numa audiência pública para apresentar nossa posição contrária a essa mexida.
Fizemos ambos uma boa palestra e, durante a nossa falação, o deputado Roberto Campos espalhava um monte de papéis sobre a mesa do plenário e olhava para nós com um olhar ameaçador como se dissesse: “vou trucidar vocês”. Tranquilos, pois conhecíamos todas as falácias e sofismas que ele publicava na mídia, ficamos aguardando a sua intervenção.
Roberto Campos falou por 29 minutos marcados por mim no relógio, enquanto procurava alertar o presidente da sessão, deputado Alberto Goldman, de que iria querer o mesmo tempo para resposta. Ele concordava, contrariado com o falatório interminável de Roberto Campos.
Quando Campos terminou, eu usei o mesmo tempo e fui desmontando ponto por ponto as assertivas falaciosas e sofismáticas dele. Quando terminei, Roberto Campos, muito zangado declarou: “Vocês da AEPET têm a mania de achar que têm o monopólio do patriotismo. Quero dizer a vocês que eu também sou um patriota”.
Respondi: “Sabemos que o nobre deputado e o insigne Barbosa Lima Sobrinho são os dois maiores patriotas do nosso País. Só que vocês defendem pátrias diferentes”.
Campos, agora indignado, pegou os seus papéis e saiu sem ver o resto da audiência, que durou sete horas, devido às perguntas e respostas.
Levamos também o ex-Ministro Aureliano Chaves para outra audiência. Aureliano deu uma verdadeira aula de patriotismo e defesa da Soberania Nacional. Falou e respondeu perguntas durante sete horas seguidas, tendo repreendido o próprio filho, do PSDB, que defendia as mudanças de FHC.
O lamentável dessas audiências é que o relator da matéria na Câmara, deputado Procópio Lima Neto, não se fazia presente. Aparecia na abertura e se ausentava com 15 minutos, ou seja, Lima Neto já tinha o relatório pronto, redigido pelo lobby.
PAPEL DA MÍDIA
Em meados da década de 60, houve denúncias e se criou uma CPI sobre um contrato entre as redes Globo e Abril com o Grupo americano Time Life. A CPI apurou e constatou a veracidade das denúncias. Os contratos foram desfeitos, mas o estrago já se concretizara nos seus três anos de duração. A Organização Globo desmontou a TV Tupi e depois foi desmontando, um a um, os jornais concorrentes. Na época, tínhamos no Rio oito jornais da melhor qualidade: Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Diário de Notícias, Diário da Noite, Última Hora e outros. A Rede Globo virou uma potência e, sub-repticiamente, se transformou num veículo dos interesses americanos. A revista VEJA, principal veículo da Abril, desempenha as mesmas funções. Há quem diga que ela é a primeira revista americana editada em português, tal a sua tendenciosidade.
Durante o processo de revisão constitucional que antecedeu às reformas de FHC, a grande mídia fez uma campanha sórdida para desacreditar as empresas estatais.
No início de 1995, a revista VEJA fez uma matéria de dez páginas, batendo falaciosamente na Petrobrás. Isto, depois de entrevistar os seus diretores e também o Diomedes, então presidente da AEPET, a quem sucedi, e eu. O jornalista, Arnaldo Cesar, que era nosso amigo, alertou: “Olha, eu não sei se esta matéria vai sair como vocês esperam. Há um grupo de editores com a matéria pronta. Se eu pegar algum ‘furo’ de vocês, eles aceitam. Se não, nada disto sairá”. Dito e feito!
A VEJA fez uma matéria em que não havia uma única vírgula a favor da Petrobrás, nem da AEPET. Só paulada. Fizemos uma matéria, respondendo ponto a ponto. A VEJA sequer respondeu. A Petrobrás preparou matéria de dez páginas, respondendo ponto a ponto. A VEJA também não deu resposta. A Petrobrás fez, então, novo trabalho, de cinco páginas, para ser publicada na revista como propaganda; a VEJA recusou, dizendo que não iria se desmoralizar perante os seus leitores. Mas injuriou de forma grotesca a maior empresa nacional.
O Estadão e a Folha de São Paulo também batiam nas estatais em geral e quase diariamente na Petrobrás, em particular. O Globo também fazia matérias seguidas e todos usavam “slogans” e rótulos pejorativos do tipo “marajá”, para os funcionários das estatais ou “dinossauros” para os seus defensores, como Barbosa Lima Sobrinho ou outro qualquer que não fosse empregado, mas defendesse as estatais. O mote era defender “O Mercado”, que sabia de tudo e resolvia todos os problemas. A rede Globo usava as novelas para lançar mensagens subliminares. Fizemos um livreto, “Glossário neoliberal”, para denunciar as frases e “slogans” usados pela mídia na sua campanha difamatória e marqueteira do processo de privatização.
Alguns animadores de programas de TV, como Hebe Camargo, Ratinho, Gugu e outros, lançavam brados contra as empresas estatais. “Gente, vocês podem aceitar essa telefonia péssima que nós temos? Eu não aceito”. Certamente eram regiamente remunerados para isto. A festa midiática só cessou quando a farra da privataria acabou. O Brasil vendeu mais de oitenta estatais, recebeu uma importância ínfima e a dívida interna cresceu de R$ 60 para R$ 700 bilhões. Perdemos muito.
O Departamento Nacional dos Combustíveis, conforme um dos seus relatórios de inspeção, constatou que as distribuidoras de combustíveis – do cartel internacional – não retiraram as suas cotas de combustível das bases de distribuição da Petrobrás. O objetivo era culpar os petroleiros pelo desabastecimento. O TCU também registrou esse fato. O mesmo foi feito pelas distribuidoras de gás. Enfim, elas tiveram 23% de aumento, enquanto aos petroleiros nada foi concedido.
Em 11 de dezembro de 1995, o Relatório Reservado publicou a matéria“Orquestração do governo pega mal na Suíça”, revelando que o principal jornal suíço, o Neue Zurich Zeitung, criticou severamente a imprensa brasileira, por não informar que foram as distribuidoras multinacionais (Shell, Exxon, Texaco, Supergasbrás etc.) as responsáveis pela falta de combustíveis e gás de cozinha no país, quando da greve dos petroleiros. Dizia a reportagem: “O correspondente do jornal suíço no Brasil espantou-se que os mesmos jornais e televisões que atribuíram aos grevistas os dramas passados pela população pobre, sequer mencionaram o relatório final do inquérito do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a greve.”
Sem entender o silêncio do governo brasileiro diante da grave conclusão do TCU, o correspondente suíço perguntou ao gabinete do presidente FHC se haveria alguma retratação pública, recebendo a promessa, jamais cumprida, de que isso seria feito em breve. Além de classificar o governo Fernando Henrique como de centro-direita, neoliberal, o jornalista terminou sua matéria “decepcionado com o complô montado durante a aprovação da quebra do monopólio do petróleo”. Foi preciso a imprensa internacional se indignar, a nossa foi conivente.
A AEPET mandou essa matéria para vários jornalistas que condenaram os grevistas, entre eles, Villas-Boas Corrêa, Carlos Chagas, que atacavam furiosamente os petroleiros pela falta do combustível. Não houve resposta deles; nenhum pedido de desculpas ou admissão do erro.
A greve dos petroleiros foi a grande desculpa encontrada pelos deputados que, na primeira votação, apresentaram o movimento grevista como pretexto para votarem contra o monopólio do petróleo. O governo, a grande mídia e as multinacionais do cartel do petróleo jogaram pesado. FHC colocou tropas nas refinarias, numa irresponsável provocação aos petroleiros que, numa atitude sensata, não reagiram. As distribuidoras fizeram tudo para provocar a falta de combustível. O governo difamou e usou a greve. Se os petroleiros, massacrados, não decidissem suspender o movimento, apesar de fragorosamente derrotados, as consequências seriam imprevisíveis. Isto mostra o peso do jogo bruto e ditatorial usado pelo governo.
No auge da greve, a Rede Globo teve um veículo com explosivos apreendido pela Polícia Federal, próximo a uma refinaria (um novo Riocentro?). A tese de mestrado de Frederico Lisboa Romão mostra, na página 396:
“O dia 17.05 vai ser repleto de fatos favoráveis aos grevistas. Surge a denúncia no Jornal do Brasil (do mesmo dia) da apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de um veículo da Rede Globo contendo explosivos próximo a REVAP, o fato ganha notoriedade, a deputada federal do PCdoB Jandira Feghalli cobra neste mesmo dia investigação da polícia federal. Um documento do Congresso Nacional assinado por 25 congressistas, do PT, PDT, PCdoB, PPS, PMDB, PTB, PSDB, PFL, PP, solicita a intermediação do ex-presidente Itamar ‘…no sentido de abrir canais de negociação com o governo…’ ” (cf. Frederico Lisboa Romão, “A greve do fim do mundo: petroleiros 1995 – Expressão fenomênica da crise fordista no Brasil“, Unicamp, 2006).
FHC aproveitou para provocar os petroleiros, tendo um dos ministros do TST, Almir Pazzianoto, seu aliado, tomado uma posição radical e até declarado que os petroleiros estavam sendo feitos de palhaços. Pura provocação.
O TST estabeleceu uma multa de R$ 100.000,00 por dia de greve, absurda, levando os Sindipetros de todo o Brasil a uma situação de inviabilidade. Esse massacre levou a uma derrocada do sindicalismo brasileiro: “Se o segundo maior sindicato do País sofreu essa derrota, o que nós sindicatos menores podemos fazer?”.
A LEI Nº 9478/97
Tendo violado a Constituição Federal no seu artigo 177, § 1º, que, em 1988, fora redigido pelo diretor da AEPET, Guaracy Correa Porto, FHC substituiu esse parágrafo por outro que retirou a exclusividade da Petrobrás de executar o monopólio da União, abrindo a porteira para empresas privadas, mormente estrangeiras, produzirem o petróleo nacional.
Para regulamentar a mudança, ele enviou um projeto de Lei que acabou se transformando na Lei nº 9478/97.
Essa lei, elaborada no auge do neoliberalismo, é uma lei ordinária em todos os sentidos, pois ela apresenta incoerência em vários dos seus artigos como, por exemplo: o artigo 3º diz que as jazidas de petróleo pertencem a União; o artigo 21 diz que o produto da extração do petróleo pertence à União. Mas o artigo 26, fruto de intenso trabalho do “lobby”, diz que quem produzir o petróleo passa a dono dele.
Os dois primeiros artigos obedecem à Constituição. O terceiro a contrapõe totalmente. Há outros artigos perniciosos, como o artigo 64, que foi posto para permitir que se transformassem as unidades de negócio (que Reischstul, depois, dividiu a empresa em 40 delas) em subsidiárias para posterior privatização e/ou desnacionalização.
O então deputado Elizeu Rezende foi o relator dessa matéria. Procuramos o deputado até na sua residência, em Belo Horizonte, junto com a FUP e outras entidades dos movimentos sociais. Mas acho que foi pior. Tudo que apontávamos de ruim, o deputado pedia sugestão por escrito e piorava o projeto. Por exemplo, o artigo 26 dizia: “conferindo-lhe a titularidade desses bens (petróleo) após extraídos”. Titularidade era bem melhor do que “propriedade”, que foi a palavra que o deputado colocou no lugar de titularidade, e entregou o petróleo para quem o produzisse.
Para piorar ainda mais a situação, FHC emitiu o decreto 2705/98, que estabeleceu as faixas para o pagamento das Participações Especiais: até 95.000 barris por dia, o produtor paga zero. A partir de 95.000 barris, começa a pagar 10% e chega a no máximo 40% do óleo-lucro, ou seja, abate-se do petróleo produzido os custos de produção e os royalties, aplicando-se os percentuais sobre o restante.
Com isto, o produtor paga à União, em dinheiro, no máximo 7% do óleo total produzido. Como essa medição é por campo, as multinacionais todas produzem menos de 95.000 barris por dia. Logo, nada pagam de participação especial. Também não pagam imposto de exportação, dádiva concedida pela Lei Kandir.
No mundo, os países exportadores recebem, em petróleo, a média de 84% do óleo-lucro. Lembro que nos países do Oriente Médio, o custo de produção é baixíssimo e 84% do óleo-lucro é um valor acima de 70% para os países produtores.
ANP-ZILBERSTAJN
Implantada a Lei 9478/97, a Agência Nacional do Petróleo – ANP – foi entregue ao genro de FHC, David Zilberstajn, que, ao assumir, declarou em alto e bom som para um auditório lotado de dirigentes de empresas multinacionais ou seus representantes: “O petróleo agora é vosso“. E cumpriu, pois, ao dividir os blocos para licitação, estabeleceu suas áreas com um valor 220 vezes maior do que a dos blocos licitados no Golfo do México.
Tal era a pressa para entregar o ouro negro. E o processo de licitação começou com uma série de irregularidades, entre elas a não realização de audiências publicas para preparação dos leilões.
Em face disto, a AEPET entrou com ações judiciais contra esses leilões. Chegamos até o terceiro leilão, quando estas irregularidades foram sanadas. Tais leilões encontram-se “sub-judice”, mas a Justiça dificulta muito as nossas ações. Já no governo Lula, entramos com ações contra o sexto e o oitavo leilões.
FHC
FHC retomou o processo iniciado por Collor e interrompido por Itamar: a sugestão do Credit Suisse de privatização da Petrobrás voltou com tudo.
A AEPET trabalhou para impedir esse processo de desnacionalização, subsidiando a ação judicial movida pelo Sindipetro-RS contra a entrega/doação da Refap para a Repsol, interrompendo o processo.
Reichstul dividiu a Companhia em 40 Unidades de Negócio que, pela Lei 9478/97, artigo 64, poderiam ser convertidas em subsidiárias e privatizadas. A REFAP seria a primeira vítima. O golpe se daria através de uma troca de ativos, em que a Repsol cederia US$ 500 milhões em ativos seus e a Petrobrás outros US$ 500 milhões. Formariam assim, uma terceira empresa, REFAP S/A, privatizada.
Quando analisamos os ativos oferecidos, vimos que os ativos da Repsol valiam menos de US$ 200 milhões. E os ofertados pela Petrobrás, mais de US$ 2 bilhões. Nesse cálculo, estimamos um dos ativos da Petrobrás (30% da REFAP) em US$ 600 milhões. Agora, eles foram recomprados por US$ 800 milhões, confirmando nossa previsão.
A liminar dessa ação, ganha em primeira instância, interrompeu o processo perverso de desnacionalização da Petrobrás. A próxima vítima seria a REDUC. Depois, as plataformas.
PETROBRAX
Quando Reichstul, em 1999, trabalhava pela desnacionalização da Petrobrás, convidou a AEPET e a FUP para nos comunicar as providências de mudança de nome da Companhia. Falou das vantagens, entendendo que a medida facilitaria aos “gringos” a pronúncia do nome da empresa (o que seria sua nova aquisição). Eu e o Diretor da AEPET, Argemiro Pertence, na ocasião, perguntamos se ele havia se dado conta de que estaria rasgando a segunda Bandeira do Brasil, ao que ele respondeu: “convidei vocês para comunicar um fato e não para lhes pedir opinião“.
Respondemos: “então, presidente, prepare-se para arcar com as consequências“. Saímos da reunião e disparamos a informação para os jornalistas nossos conhecidos e colocamos no AEPET Direto — nosso informativo eletrônico diário, bem como em nossos boletins. A mídia toda repercutiu a matéria.
A reação nacional foi grande e Reichstul acabou voltando atrás e cancelando a insidiosa iniciativa. A Nação brasileira se apercebeu do golpe e mostrou a sua indignação. O presidente Reichstul em pouco tempo se tornou “ex-presidente”.
Aliás, Reichstul foi um péssimo presidente: desmontou a equipe de planejamento estratégico da Petrobrás, substituindo-a pela empresa americanaArtur D Little. Um desastre. A empresa levou a Petrobrás a comprar refinarias velhas na América do Sul e até uma nos EUA, com um passivo ambiental imenso. Definiu um novo plano de previdência, PPV, e dividiu a Petrobrás em quarenta unidades de negócio a serem privatizadas. Além disto, Reichstul conseguiu a ocorrência de 62 acidentes da Petrobrás em 2,5 anos contra uma média histórica de menos de um acidente por ano. Muitos desses acidentes, a nosso ver, foram sabotagens, inclusive o da P36. Nós solicitamos à Marinha e ao Ministério Publico que investigassem a respeito dessa hipótese. Lamentavelmente, nenhuma investigação foi feita.
Outra das facetas de Reichstul: a empresa Marítima havia contratado sete plataformas de perfuração para trabalhar para a Petrobrás. Ela estava atrasada e sujeita a uma multa de centenas de milhões de dólares, que se consumaria em um mês. O que fez Reichstul? De forma atabalhoada (proposital?), cancelou os contratos, dando à Marítima o direito de se safar da inadimplência e das multas e ainda processar a Petrobrás pedindo US$ 2 bilhões de indenização por cancelamento unilateral de contrato. Chegou a ganhar na 1a instância. Perdeu no STJ.
Reischstul dobrou a gratificação dos gerentes e a quantidade deles, ganhando apoio para suas falcatruas. Deu ainda aos gerentes um poder de decisão muito grande, podendo contratar empresas e pessoas terceirizadas. Cooptou a maioria para efetivar o processo de desnacionalização da empresa.
Em 2001, Reichstul, desgastado, dá lugar a Francisco Gros que, ao assumir a presidência da Petrobrás, num discurso em Houston, EUA, declara que na sua gestão, “a Petrobrás passará de estatal para empresa privada, totalmente desnacionalizada“; compra 51% da petroleira Pecom, da Argentina, por US$ 1,1 bilhão, embora a dita empresa tenha declarado, publicamente, um déficit de US$ 1,5 bilhão; cria um sistema para mascarar acidentes nos quais os acidentados não os possam reportar; tenta implantar um plano de Benefício Definido no Fundo de Pensão – Petros.
Faz, ainda, um contrato de construção de duas plataformas com a Halliburton, com uma negociação obscura, sem concorrentes, que resulta, além de um emprego maciço de mão-de-obra estrangeira, em dois atrasos superiores a um ano e meio. Estes atrasos fizeram com que, pela primeira vez na história da Petrobrás, houvesse uma queda de produção, fato ocorrido em novembro de 2004. Apesar desses atrasos, a Halliburton nada pagou de multa e ainda ganhou cerca de US$ 500 milhões de adicionais da Petrobrás, em tribunal americano. A AEPET denunciou esses fatos REITERADAMENTE.
VENDA DE AÇÕES
Em 2000, depois de seis empresas estrangeiras ficarem mais de um ano no 12º andar do Edifício-sede da Petrobrás, fazendo desfilar os gerentes com todas as informações que quisessem, analisando todos os dados estratégicos da Petrobrás, Reischstul, numa grande encenação, como se fosse preciso algum marketing, levou Pelé para a bolsa de Nova Iorque, objetivando a “venda” de ações da Petrobrás.
Em duas etapas, foram vendidos 36% das ações por US$ 5 bilhões, quando elas valiam mais de 15 vezes esse valor, sem contar as reservas do pré-sal a que esses acionistas passaram a ter direito, sem nada terem pago por elas. Foi uma doação do patrimônio potencial brasileiro. Até então, no País, entregara-se o que já fora ou estava sendo produzido. No contexto petróleo, com a venda das ações, passou-se a entregar o que ainda será produzido. Um caso típico de entrega hereditária.
MÍDIA
Parece que agora a Rede Globo e a mídia dominada vão recomeçar a campanha: a Revista ÉPOCA, da editora Globo, lançou uma matéria de sete páginas, em seu número de 13/06/2011, configurando uma retomada da campanha contra as estatais, os fundos de pensão e o governo.
Eis o começo da matéria: “A queda do Muro de Berlim [está no Glossário] parecia ter encerrado o debate sobre o tamanho do Estado na Economia. Com a vitória de um sistema baseado na livre-iniciativa — o capitalismo — sobre outro baseado no planejamento estatal — o socialismo —, a conclusão era cristalina: o governo deveria limitar ao mínimo a regulação sobre as atividades privadas e cuidar (bem) dos serviços básicos, como saúde, educação, justiça e segurança [outro slogan do Glossário]… Em setembro de 2008, porém, com a eclosão da crise global, os governos de quase todo o mundo tiveram de injetar trilhões de dólares para reanimar suas economias. Nos EUA, como em outros países, o Estado assumiu o controle de bancos, seguradoras e até mesmo montadoras de automóveis à beira da falência [a revista não fala, mas foi o colapso da falácia neoliberal do ‘Mercado”]… Vozes antes relegadas a um papel secundário no debate voltaram à cena com ares de protagonistas. Uma delas, o economista americano Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de economia em 2001, afirmou recentemente à Época: ‘Não é o tamanho do Estado que importa, é o que o governo Faz’“.
E a revista segue ressuscitando “slogans” e chega ao ponto fundamental: “A interferência do Estado na economia via estatais, BNDES, e fundos de pensão é tão intensa que durante a (nossa) pesquisa, ÉPOCA teve de atualizar dados de muitas Companhias que receberam recentemente dinheiro do governo…”. “O governo brasileiro é um dinossauro com apetite insaciável. Nunca tivemos um capitalismo de estado tão evidente“.
Esta matéria está em sintonia com diversas publicações na Internet que afirmam que o governo dos EUA está empenhado em combater a intervenção do governo brasileiro na economia através das estatais e dos Fundos de Pensão. Eles não querem que o Brasil se torne independente economicamente deles. O Brasil é o seu maior celeiro de matérias primas. Uma prova recente dessa intenção: nós, conselheiros eleitos da Petros, fomos a Brasília para uma audiência marcada com o diretor da PREVIC, autarquia que controla os fundos de Pensão. Não pudemos falar com o diretor. Ele foi convocado para uma reunião com o Banco Mundial. O que tem a ver a controladora dos Fundos de Pensão com o Banco Mundial? Teoricamente nada, mas é provável que faça parte do esquema do governo americano para enquadrar os Fundos de Pensão.
Não resta dúvida de que, no momento, o alvo principal é a Petrobrás, pois no projeto do governo Lula ela será a operadora única do pré-sal. O lobby internacional tentou mudar isto, mas não conseguiu. Mas eles nunca desistem e como disseram no Wikileaks: “O projeto do governo nos é desfavorável, mas o mudaremos com o auxílio do IBP, ONIP e FIESP, com cuidado para não despertar o nacionalismo dos brasileiros“.
Fernando Siqueira
Vice-Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás
Artigo publicado no Jornal Hora do Povo em novembro de 2012

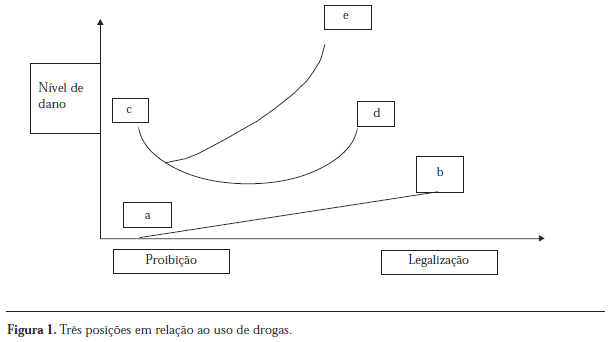


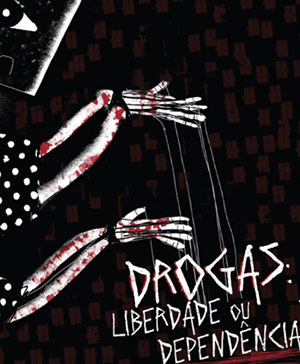
 Em declarações à imprensa, o governador Sérgio Cabral tem defendido a legalização de todas as drogas hoje consideradas ilícitas, como uma medida que favoreceria à redução da criminalidade, em especial, à redução do crime organizado. O consumo dessas drogas já foi descriminalizado. O então senador Sérgio Cabral foi o relator dessa lei, sancionada pelo presidente Lula no ano passado. Portanto, o governador somente pode estar se referindo, agora, à legalização do tráfico de drogas. E, como é de seu estilo, franco e aberto, ele é explícito sobre a questão.
Em declarações à imprensa, o governador Sérgio Cabral tem defendido a legalização de todas as drogas hoje consideradas ilícitas, como uma medida que favoreceria à redução da criminalidade, em especial, à redução do crime organizado. O consumo dessas drogas já foi descriminalizado. O então senador Sérgio Cabral foi o relator dessa lei, sancionada pelo presidente Lula no ano passado. Portanto, o governador somente pode estar se referindo, agora, à legalização do tráfico de drogas. E, como é de seu estilo, franco e aberto, ele é explícito sobre a questão.
 Em 1972, trabalhando na Light, ainda pertencente ao grupo canadense Brascan, eu me sentia frustrado por não trabalhar como engenheiro, pois a engenharia da companhia era muito desorganizada e incipiente. Estava, havia três anos, lotado na Divisão de Distribuição Estadual, que abrangia a Baixada Fluminense e os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Três Rios, Paraíba do sul e outros. Não fazia nada de engenharia. Então, surgiu um concurso para a Petrobrás. Sem ser informado da data do concurso, me esqueci dele. Um dia, num sábado, estando na praia com a família, vi a convocação da prova do concurso. Vesti a roupa e fui. Passei em primeiro lugar. Isto me levou a ser escolhido pelo Departamento de Produção (DEPRO), onde trabalhei até me aposentar. Não consegui sair desse Departamento. Gostava dele.
Em 1972, trabalhando na Light, ainda pertencente ao grupo canadense Brascan, eu me sentia frustrado por não trabalhar como engenheiro, pois a engenharia da companhia era muito desorganizada e incipiente. Estava, havia três anos, lotado na Divisão de Distribuição Estadual, que abrangia a Baixada Fluminense e os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Três Rios, Paraíba do sul e outros. Não fazia nada de engenharia. Então, surgiu um concurso para a Petrobrás. Sem ser informado da data do concurso, me esqueci dele. Um dia, num sábado, estando na praia com a família, vi a convocação da prova do concurso. Vesti a roupa e fui. Passei em primeiro lugar. Isto me levou a ser escolhido pelo Departamento de Produção (DEPRO), onde trabalhei até me aposentar. Não consegui sair desse Departamento. Gostava dele.